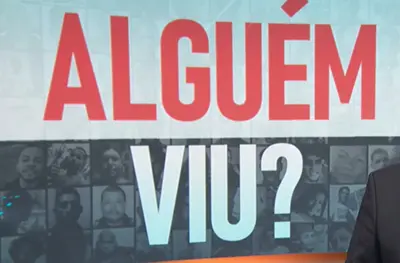Por que estamos mais cansados do que antes?
Manifestações de exaustão, antes consideradas exceção, agora ocupam o centro das estatísticas sobre afastamentos por adoecimento mental
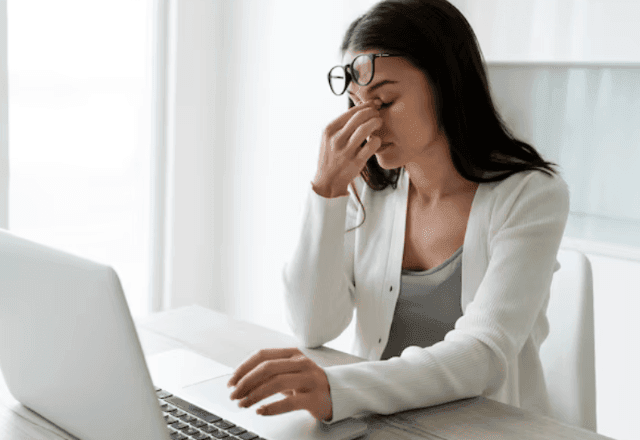

Brazil Health
Nos últimos anos, ficou comum ouvir relatos de profissionais que, mesmo cumprindo todas as metas e mantendo uma rotina em movimento constante, sentem que algo essencial se perdeu no percurso.
O que se apresenta como eficiência geralmente esconde uma tensão persistente, uma espécie de compressão psíquica que vai além do mero desgaste. As manifestações de exaustão, antes consideradas exceção, agora ocupam o centro das estatísticas sobre afastamentos por adoecimento mental.
Por que isso está acontecendo?
Dados recentes do Ministério da Previdência indicam que mais de 470 mil pessoas se afastaram do trabalho por causas relacionadas à saúde mental em 2024. O número é o maior da última década. Ansiedade, episódios depressivos e, principalmente, a síndrome de burnout compõem a maioria dos registros. O avanço desses casos evidencia uma realidade que já não se limita a determinadas profissões ou faixas etárias: trata-se de um fenômeno estrutural.
A lógica produtivista, que associa valor ao volume de entregas e ao tempo de resposta, tem se expandido para além dos limites do expediente. A fronteira entre vida profissional e pessoal tornou-se cada vez mais tênue, sobretudo com a intensificação do trabalho remoto e a digitalização dos vínculos laborais. Assim, agendas lotadas e jornadas estendidas passaram a compor a normalidade operacional de grande parte dos profissionais.
Essa cultura, ao naturalizar a compressão do tempo e a alta disponibilidade emocional, redefine o que se espera de um trabalhador. E essa expectativa, mantida por longos períodos, transforma-se em fator de risco. O esvaziamento do sentido subjetivo do trabalho, somado à pressão constante, contribui para o surgimento de quadros clínicos marcados por exaustão física e mental, cinismo interpessoal e sensação de ineficácia.
O que o estresse faz com o nosso corpo?
A entrada em vigor da CID-11 no Brasil, a partir de janeiro de 2025, representa um marco na forma como o burnout é compreendido e registrado. A nova classificação, desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, atribui à síndrome o código QD85 e a reconhece como condição diretamente relacionada ao ambiente ocupacional. A saúde mental deixa de ser atributo apenas individual e passa a ser entendida como fenômeno condicionado por estruturas, culturas e políticas organizacionais.
A exposição prolongada ao estresse ativa de forma constante o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, promovendo uma liberação contínua de cortisol. A elevação crônica desse hormônio está associada a alterações metabólicas, diminuição da imunidade, distúrbios do sono, problemas cardiovasculares e maior vulnerabilidade a transtornos psiquiátricos.
A pandemia de Covid-19 provocou uma reorganização abrupta das dinâmicas laborais. Com o teletrabalho, muitos profissionais viram desaparecer as barreiras físicas e temporais que antes delimitavam o tempo de descanso. A casa tornou-se extensão do ambiente corporativo, e a conexão permanente passou a ser interpretada como sinal de responsabilidade.
Mesmo após a flexibilização das medidas sanitárias, os hábitos adquiridos durante esse período permaneceram. A expectativa de resposta imediata, a dificuldade de desconexão e a internalização da urgência tornaram-se traços da cultura profissional contemporânea. O resultado tem sido o aumento dos quadros de esgotamento, inclusive entre aqueles que, aparentemente, possuem maior autonomia sobre sua agenda.
Burnout não é um problema individual
Segundo dados de 2024, mais da metade da população brasileira investe até R$ 300 por mês em cuidados com saúde mental. Um em cada três indivíduos relata já ter encontrado dificuldade financeira para manter esse tipo de acompanhamento. Apesar disso, pesquisas revelam que 67% dos trabalhadores desejariam investir mais nesse aspecto, se tivessem condições para isso.
Esse descompasso entre necessidade e possibilidade revela a precariedade estrutural no cuidado com a saúde psíquica. Embora haja maior abertura social para o tema, o acesso efetivo a psicoterapia, psiquiatria e programas de promoção de bem-estar ainda está restrito a parcelas específicas da população, seja por barreiras econômicas ou pela ausência de políticas públicas consistentes.
O cuidado emocional não pode permanecer como um bem de consumo opcional. A forma como um país estrutura o acesso à saúde mental reflete, em grande medida, o valor que atribui à dignidade de seus trabalhadores. Quando o sofrimento se torna estatisticamente visível, é sinal de que o problema é coletivo — e não apenas individual.
A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 prevê que empregadores devem mapear, avaliar e prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Isso inclui, por exemplo, assédio moral, sobrecarga de tarefas e metas desproporcionais. Embora a legislação represente um avanço, sua aplicação exige uma transformação mais profunda nas práticas gerenciais e nas formas de liderança.
A legislação pode inaugurar caminhos, mas é a cultura que sustenta trajetórias. A promoção de saúde emocional demanda mais do que medidas paliativas. É necessário repensar o próprio conceito de desempenho e rever modelos que confundem competência com resistência silenciosa.
O burnout não é um problema individual. É o sintoma de um projeto coletivo que precisa ser revisado. Um sistema que opera à custa da saúde psíquica de seus membros está, por definição, em desacordo com a vida. O desafio, agora, é pensar o trabalho não como extensão da sobrevivência, mas como parte da experiência de viver com inteireza. E isso exige tempo, coragem e, sobretudo, escuta.
O que fazer?
Estamos diante de uma nova categoria de exaustão: aquela que não se resolve com férias ou fins de semana prolongados. Trata-se do cansaço provocado pelo deslocamento entre o que se é e o que se espera ser. É o esgotamento gerado não apenas pelo excesso de tarefas, mas pela ausência de sentido que as conecta.
Estabelecer limites, valorizar o descanso e reconhecer os sinais de esgotamento são atitudes preventivas e, em muitos casos, protetoras. Embora a cultura dominante ainda considere a pausa como improdutiva, ela constitui um dos mecanismos mais eficazes para a preservação da saúde integral.
A autopercepção — saber identificar quando é necessário parar, delegar ou reorganizar a rotina — é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Organizações que compreendem esse movimento não apenas retêm talentos, mas constroem ecossistemas mais sustentáveis. Nessas circunstâncias, a pausa não é interrupção: é parte do fluxo.
O descanso não é ausência de ação, mas presença de consciência. Saber parar é uma forma de inteligência emocional e uma estratégia de longo prazo. A capacidade de sustentar o trabalho ao longo da vida depende, em grande medida, da qualidade do cuidado oferecido a si mesmo nesse trajeto.
É possível imaginar outro modelo. Um em que a pausa não seja concessão, mas parte estratégica do desempenho. Um em que os indicadores de sucesso incluam bem-estar, retenção e engajamento autêntico, e não apenas faturamento. Um modelo em que o cuidado não seja periférico, mas estruturante.
* Erika Costa Barreto Monteiro de Barros é psicóloga credenciada pelo CRP 05/34816